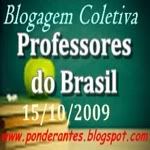Estamos no mês da Consciência negra e para isso, estou colocando aqui um artigo que eu achei muito bom, leiam e tirem suas conclusões, beijos.
As raças não existem
As pesquisas genéticas confirmam o que historiadores e sociólogos já sabiam: a unidade da espécie humana. As raças não existem
Verônica Bercht
As ciências biológicas, assim como as ciências sociais, deram durante muito tempo estatuto científico ao racismo. Nelas, ele baseava-se especialmente na afirmação de que a espécie humana era composta de três grandes raças e cada uma delas tinha atributos intelectuais e comportamentais específicos que justificavam uma hierarquia biologicamente estabelecida. Quem pensava assim via na prática social a comprovação dessa hierarquia. O conceito de raça – ou subespécie – era, portanto, o alicerce científico para o passo seguinte, o racismo e seu corolário, a superioridade racial de um grupo privilegiado.
A principal pergunta pertinente às ciências biológicas sobre esta questão é: a espécie humana é, objetivamente, composta por raças diferentes? Respondida esta pergunta poderíamos então partir para a seguinte: uma raça é superior a outra?
Essas questões receberam respostas diferentes ao longo dos últimos 200 anos. Hoje, o desenvolvimento e o acúmulo dos conhecimentos sobre a evolução da espécie humana, fornecidos principalmente pela paleoantropologia e pela genética, estabeleceram provas irrefutáveis sobre a inexistência de raças na espécie humana e desmascararam a camisa de força imposta por cientistas para adequar a realidade à prática social e à ideologia.
Podemos identificar duas posturas bem marcadas em relação ao conhecimento científico. Uma delas considera o fato científico como a revelação da verdade. Assim, o experimento científico, ou descoberta, é apresentado como um fato isolado, sem relação com outros fatos, científicos ou não, e totalmente alheio ao desenvolvimento científico e histórico que o antecedeu, e o fato é então incorporado como uma “verdade” científica que, por sua vez, é cultuada como solução para o problema que suscitou a pesquisa.
No outro extremo estão os que percebem que as promessas feitas com base na “verdade científica” nem sempre se realizam; que sabem que a ciência é feita por homens e mulheres com suas ideologias, e que, hoje, a prática científica baseia-se nos mesmos mecanismos capitalistas que regem as sociedades atuais. Por isso, negam a validade da metodologia científica para a aproximação do conhecimento da realidade, que em última análise, para eles, é inalcançável.
Essas duas posturas, apesar de distintas, têm a mesma conseqüência: invalidam a prática científica como instrumento para o conhecimento da realidade, negam os benefícios que esse conhecimento pode representar para a humanidade e, acima de tudo, impedem a análise crítica da ciência atual. Com isso, esvaziam as propostas de luta para a democratização e socialização dos conhecimentos científicos e de suas aplicações e para a reorientação dos objetivos da prática científica, atualmente definidos pela organização capitalista e neoliberal da sociedade.
Para entendermos o estágio em que a ciência se encontra é necessário ter em mente que por trás de toda prática científica estão as idéias, que, por sua vez, são resultado do contato do homem com a natureza, com os outros homens e suas criações. As ciências biológicas não são exceção à regra. Elas também estão imersas no universo ideológico, e o debate sobre a existência de raças biologicamente definidas na espécie humana é uma demonstração de que a ciência e a ideologia são inseparáveis e de como é tortuoso o caminho que nos leva ao conhecimento da realidade. Mas, é, ao mesmo tempo, a demonstração de que a ciência pode nos dar elementos importantes para o entendimento do mundo em que vivemos e auxiliar na proposição de lutas para torná-lo mais justo e mais humano.
A origem da variedade de seres que habitam nosso planeta é uma questão fundamental das ciências biológicas. Elas têm, em sua origem, a concepção religiosa judaico-cristã que estabelecia a origem divina das espécies e, até 1858, quando Charles Darwin publicou A origem das espécies e a seleção natural, acreditava-se que elas eram fixas, criadas por Deus, e as variações entre os indivíduos de uma mesma espécie não passavam de imperfeições nas criaturas, provocadas pelas falhas do mundo material. Os mesmos argumentos explicavam a existência das raças humanas e estabeleciam os níveis hierárquicos entre elas. A versão bíblica (Gênesis 9, 18-27) conta que quando Noé e seus filhos Sem, Cam e Jafé saíram da Arca, Cam cometeu uma irreverência contra o pai que, para puni-lo, o condenou ao sofrimento no tórrido continente africano e à eterna escravidão: “Maldito seja Canaã! Que se torne o último dos escravos dos irmãos”. A descendência dos três filhos de Noé teria formado, segundo essa interpretação religiosa, as raças que se espalharam pelos diferentes continentes.
Essa concepção predominou nas ciências biológicas até mesmo depois de Darwin ter mostrado que as espécies não eram fixas, mas resultado de um longo processo de transformações sucessivas. Numa época em que, de um lado, a prática da escravidão estava no auge e, de outro, a ciência não dispunha de elementos para compreender a evolução humana – a paleoantropologia ainda engatinhava à procura de fósseis dos ancestrais humanos e não se conheciam os mecanismos de herança das características dos seres vivos – a ciência biológica européia, é bom lembrar, associava traços culturais que não conseguia entender à variedade física dos povos, alegando que eram determinados pelo clima onde esses povos viviam. Assim, os traços culturais dos povos asiáticos e africanos eram associados às suas características físicas e como essas culturas eram consideradas inferiores à cultura européia, que então procurava se impor nas diversas colônias, os povos mongolóides e negróides eram considerados inferiores.
Pode-se dizer que essas idéias predominaram nas ciências biológicas até o início do século XX, acaçapando as visões discordantes. O desenvolvimento de dois ramos das ciências biológicas, a paleoantropologia e a genética evolutiva, na primeira metade do século XX, e a ameaça representada pelas idéias nazistas e eugenistas durante a Segunda Guerra Mundial foram determinantes para destronar temporariamente aquela concepção no âmbito das ciências biológicas. E após a derrota do nazismo, mesmo biólogos conservadores, como Edward O. Wilson, um dos fundadores da sociobiologia, diziam que a noção de raça ou subespécie era tão arbitrária que deveria ser abandonada.
Não auxiliava na classificação de plantas e animais e nem no entendimento dos fenômenos evolutivos. Ao contrário, confundia-os.
A teoria neodarwinista, proposta na virada dos anos de 1940 por Ernst Mayr, Theodozius Dobzanky e Julian Huxley, reuniu a teoria da evolução proposta por Darwin com os achados de Mendel e as novi-dades da nascente genética das populações, mas ainda mantinha em suas bases o dogma da Criação. Aceitava a evolução das espécies como um processo progressivo em cuja base estão as espécies inferiores que gradativamente progridem até chegar ao ápice dominado pela figura humana, como se a evolução seguisse um plano previamente traçado. O neodarwinismo propõe que a evolução consiste no surgimento de novas variantes de genes em grupos isolados de uma espécie; essas variantes surgem ao acaso provocadas por mutações e não ocorrem de maneira homogênea em toda a espécie. Gradualmente, sob a ação da seleção natural, as variantes genéticas que conferem vantagens adaptativas aos indivíduos do grupo são incorporadas ao seu patrimônio genético. O isolamento e o acúmulo progressivo de mutações em seu patrimônio genético torna-o, ao longo do tempo, incompatível com a espécie original – definindo uma nova espécie. As raças ou subespécies, por sua vez, seriam os estágios intermediários desse processo.
Esta teoria não rompeu com as idéias racistas que, ao contrário, a evocavam para afirmar que as raças negra e amarela seriam estágios anteriores e inferiores da raça branca e inspirou correntes reacionárias, como a sociobiologia e o ultradarwinismo.
Mas o neodarwinismo expôs também a fragilidade do conceito de raça, subespécie ou variedade ao demonstrar como sua significância depende do momento do processo evolutivo de uma certa espécie. Como saber se as variações observáveis dentro de uma espécie dariam vantagens evolutivas aos seus portadores a ponto de diferenciá-los numa raça? Em que momento um conjunto de variações poderia conferir status de raça a uma população? Inspirou, também vários estudos que tentaram quantificar a variação genética entre populações de uma mesma espécie, inclusive na espécie humana. Esses estudos mostraram que a variação genética entre indivíduos de uma mesma população humana é menor do que a variação entre indivíduos de “raças” diferentes. Outros estudos demonstraram que os traços que orientam as noções de raças – a cor da pele, o formato do nariz e dos lábios e o tipo de cabelo – não são típicos de cada “raça”. Existem, por exemplo, pessoas de pele clara e pessoas de pele escura portadoras de cabelos crespos, ondulados e lisos; de nariz achatado e de nariz aquilino; de lábios finos ou carnudos. As variações genéticas para cada uma dessas características estão espalhadas em toda a população humana.
Raça, um conceito ideológico, e não biológico
A luta contra as idéias racistas foi intensa. Apesar dos avanços posteriores à Segunda Guerra Mundial, o debate sobre a existência de raças recrudesceu na década de 1970, quando foram publicados livros como O Macaco Nu, de Desmond Morris, Gene Egoísta de Richard Dawkins e Sociobiologia de Edward O. Wilson. As idéias racistas e deterministas dessas obras, fartamente divulgadas pela imprensa da época, foram atacadas por cientistas progressistas, de inspiração marxista, como Richard Lewontin, Steven Rose, Leon Kamin, Marcel Blanc, Stephen J. Gould, entre outros, que promoveram uma verdadeira campanha de divulgação de experimentos e pesquisas científicas e demonstraram como as idéias apresentadas por aqueles autores não tinham fundamentos científicos e eram, apenas, conclusões de ordem moral e ideológica.
Nessa época os livros do paleontólogo Stephen J. Gould começaram a chegar às livrarias mostrando que a teoria neodarwinista não era a única explicação para a origem de espécies novas. Uma das idéias combatidas por Gould é a de que as raças ou subespécies são estágios transitórios do processo de especiação. Ele é veemente no combate à idéia de que a evolução é um processo de “melhoramento” das espécies e de que há uma hierarquia entre elas. Ao contrário, ele defende que a seleção natural é um fator menor na origem das espécies e considera que o acaso é o principal motor da evolução. O acaso representado por catástrofes naturais, por alterações gradativas no ambiente, por mutações genéticas ou alterações mais profundas no material genético são responsáveis pelo desaparecimento da maior parte das espécies e pelo surgimento de novas.
Algumas idéias de Gould (muitas delas inspiradas em colegas que no início do século foram solapados pela força do neodarwinismo, como Richard Goldschmidt), foram reconhecidas e incorporadas por cientistas como Ernst Mayr, fundador do neodarwinismo.
Na segunda metade do século XX os achados de fósseis de ancestrais humanos acrescentaram novos argumentos contra a existência de raças ao mostrarem que a espécie humana é muito nova na face da Terra – surgiu há apenas cerca de 160 mil anos, tempo insuficiente para que houvesse se diferenciado em raças. Além disso, mostraram que o intercruzamento, ao contrário do isolamento, é uma característica da espécie impossibilitando a ocorrência do processo de especiação neodarwinista.
Atualmente, portanto, é consenso de que não existem raças biologicamente definidas entre os homens. Mesmo tendo destruído o conceito biológico de raça humana, não será a ciência que destruirá o racismo, cujas origens não são científicas e nem fazem parte da natureza humana. O racismo também não é um mero problema de atitude, um preconceito residual do tempo da escravidão, como a visão liberal tradicional deseja. As origens do racismo são ideológicas e suas bases se mantêm na medida em que o racismo reforça o sistema capitalista. As conclusões da paleoantropologia e da genética de populações, no entanto, devem ser incorporadas à luta contra o racismo com a mesma veemência que as conclusões pseudocientíficas o foram a seu favor em tempos de triste memória.
Verônica Bercht é bióloga e jornalista.
Texto da Revista Princípios ed. 79









 um personagem, mas um estado. Não tem memória, nem conflitos”, explica Venicio.
um personagem, mas um estado. Não tem memória, nem conflitos”, explica Venicio.